|
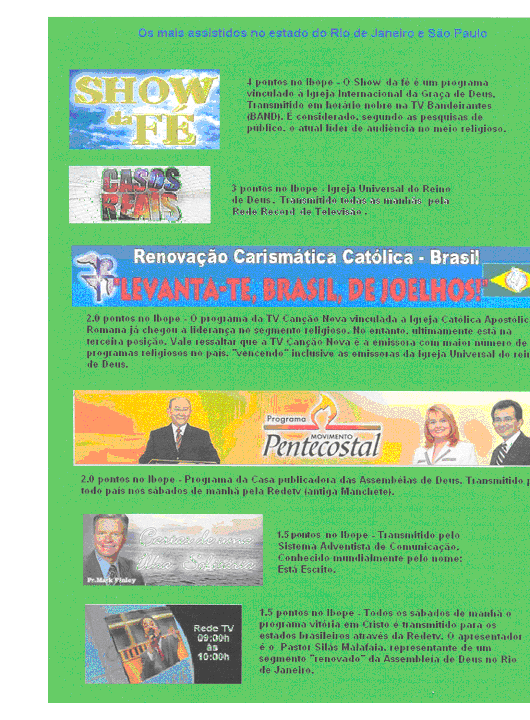
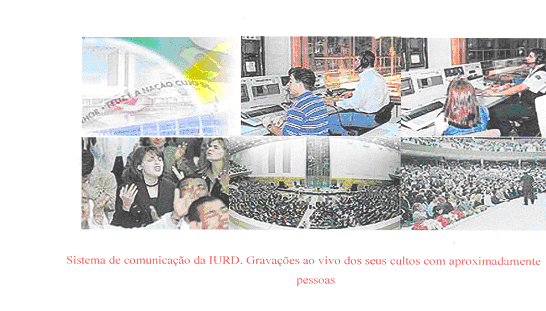

LIMITES AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE RELIGIOSA NOS MEIOS COMUNICAÇÃO
NO BRASIL
Pe. Dr. Adam Kowalik
1. Introdução. 2. Noção das relações
entre o Estado e a Igreja no Brasil. 3. Funções dos Direitos Fundamentais. 4. Proselitismo religioso nos meios de comunicação
de massa. 5. Conclusão.
1. Introdução
Há um fato relevante no cotidiano nacional e que até agora não tem merecido uma análise mais detida dos aplicadores
do direito: refiro-me ao notável milagre da multiplicação dos programas religiosos nos canais de rádio e TV. “Como aparece o vínculo entre religião e mídia em nosso tempo? Em primeiro lugar, há uma forma de fácil
constatação: a ocupação de espaços de mídia pelo discurso religioso, seja em seu próprio nome (nas falas de pessoas e grupos
religiosos, na realização de programas religiosos de rádio e tevê, nas publicações religiosas, na ´indústria cultural´ de
matriz religiosa, nos inúmeros sítios religiosos na internet,etc.) seja a respeito da religião (em documentários, entrevistas,
coberturas de notícias, etc.).
Tal presença da religião na mídia é clara e se estende dos produtos à propriedade de veículos e recursos de produção.
Isto acompanha um processo de mais longa duração, de apropriação dos processos e recursos da dinâmica cultural numa sociedade
secular e de mercado por parte dos atores religiosos (como organizações ou como pessoas privadas). Neste sentido, tanto a
intensidade deste vínculo entre religião e mídia como sua percepção e avaliação pelos diferentes atores sociais não são singulares:
vários outros discursos culturais (e seus suportes institucionais) também investem o mercado e a mídia como parte do mercado”.
O fenômeno é relativamente recente, pois há pouco mais de dez anos a pregação religiosa nos meios de comunicação restringia-se
à missa católica dominical e ao singelo programa vespertino “A hora da Ave Maria”, apresentado por Hilton Franco. Hoje, diversamente, encontramos
catequeses na TV aberta, nos canais do cabo e em muitas emissoras de rádio AM e FM do país, a qualquer hora do dia. As autoras desse milagre são as igrejas neopentecostais
que surgiram no Brasil no final da década de 80. A maior delas comprou um canal da TV aberta e notabilizou-se, no passado,
por transmitir um de seus pastores chutando um ícone católico.
O objetivo
deste trabalho é examinar algumas das múltiplas questões jurídicas subjacentes ao exercício da liberdade religiosa nos meios
de comunicação de massa no Brasil. Está o Estado brasileiro autorizado a restringir, de alguma forma, o proselitismo religioso
na TV e no rádio? A proteção requerida não importaria na violação do dever de neutralidade dos poderes públicos nos assuntos
das igrejas? Como é sabido, desde a promulgação da primeira Constituição republicana, o Estado brasileiro define-se como laico,
e a Carta democrática de 1988 proíbe expressamente todos os membros da Federação de subvencionar cultos religiosos ou igrejas,
“embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança”
(art. 19, I).
A questão
é bastante instigante e espinhosa, sobretudo quando se tem em conta o enorme poder de manipulação da vontade e do imaginário
popular que possuem os donos das concessões públicas de telecomunicações. A propósito, convém lembrar que as redes de TV aberta
alcançam hoje todos os Municípios brasileiros. Segundo dados do IBGE, em 1999 havia 53.573.000 aparelhos de televisão,
instalados em 37 milhões de domicílios do país. Levantamento feito pela UNESCO apurou que a média de duração de assistência
diária a emissões de televisão no Brasil é de duas horas por pessoa – a mais alta média entre todos os países subdesenvolvidos.
Não é difícil,
nesse contexto, constatar a relação de causalidade existente entre o crescimento de algumas religiões neopentecostais e o
acesso privilegiado que elas possuem às rádios e TVs do país. Não por outro motivo, uma das prioridades anunciadas da Igreja
Universal do Reino de Deus era, no ano de 2003, dobrar a participação de seus parlamentares nas comissões do Congresso que
cuidam das concessões de rádio e TV.
De acordo com dados publicados pela imprensa, a bancada dos evangélicos no Congresso Nacional è uma das mais expressivas,
possuindo atualmente cerca de 60 parlamentares. Como escreve Ivo Lucchesi no seu artigo A mídia e a expressã da fé, “A cena política nacional é cada vez mais habitada por políticos cuja retórica acentua o tom religioso. Sem alarmismo,
quer-se pontuar que o perfil laico do Estado brasileiro tem perdido boa parcela de sua autonomia. Não sejamos ingênuos. Proliferam,
no Congresso Nacional, bancadas (deputados e senadores) que se elegem com base em seus redutos de fiéis. Igual percepção se
pode ter no tocante a cargos executivos, tanto em âmbito municipal, quanto nas esferas estadual e federal. Diferente não se
dá na ampliação de publicações, de redes (rádio e TV), programas diários, inclusive com horários comprados em emissoras comerciais
desvinculadas de instituições religiosas. Todos têm em comum a prática de ostensivas pregações.
A omissão diante desses passos sinuosos pode estar permitindo a instalação de um quadro societário no qual a intolerância,
sempre cúmplice das convicções inabaláveis, venha a germinar tensões até então desconhecidas na vida brasileira. Quando a
evangelização se torna o suporte para a ação política transformadora, o que se obtém é a política da evangelização, seguida
do domínio sobre as vozes da diferença. Atingido esse estágio, passa a vigorar a lógica persecutória do fundamentalismo, perante
o qual a democracia não é mais reconhecida como prática das relações societárias. Não custa recordar que, diferentemente do
que possa pensar a maioria, "fundamentalismo" é um conceito formulado primeiramente pela matriz cristã”.
O pressuposto geral do trabalho é a percepção de que a agressão aos direitos fundamentais pode resultar não apenas
dos poderes públicos, mas também de “poderes privados”, sendo certo que, como ressalta Canotilho, a função de
proteção objetiva desses direitos não pode deixar de implicar sua eficácia no âmbito das relações privadas caracterizadas
pela situação desigualitária das partes. Conseqüentemente, “as leis e os tribunais devem estabelecer normas (de conduta
e de decisão) que cumpram a função de proteção dos direitos, liberdades e garantias” constitucionais.
Não há, com
efeito, uma única liberdade religiosa na Constituição de 1988, mas sim uma plêiade de posições jurídicas do indivíduo e das organizações religiosas em face do Estado e dos demais particulares.
Essas posições jurídicas podem ser agrupadas em quatro dimensões distintas, a saber: a) liberdade de consciência religiosa ou
liberdade de crença (art. 5o, inciso VI, primeira parte); b) liberdade de culto (art. 5o, inciso VI, fine); c) liberdade
de associação religiosa (art. 5o, incisos XVII a XX); d) liberdade de comunicação das idéias religiosas (art. 5o, IX, c.c.
o art. 220). A distinção não tem valor puramente acadêmico, pois, como bem salientou Elival da Silva Ramos, os diferentes
níveis em que se desenvolve a liberdade de religião se refletem em distintos regimes jurídicos.
A liberdade
de crença, na formulação de José Afonso da Silva, compreende não apenas “a liberdade de escolha da religião,
a liberdade de aderir a qualquer religião, e a liberdade (ou o direito) de mudar de religião,
mas também (...) a liberdade de não aderir a religião alguma…”. Trata-se, como se vê, de manifestação específica da liberdade de consciência,
declarada no mesmo inciso constitucional, e, em última instância, também do próprio princípio da autonomia da pessoa.
A liberdade
de culto consiste na faculdade, conferida a cada indivíduo, de exteriorização ritual de suas crenças, por intermédio de
cerimônias, reuniões, práticas e obediência a hábitos. O culto pode ocorrer no âmbito privado ou em espaços abertos ao público,
tais como igrejas, templos, ou mesmo ruas e praças. É interessante lembrar que, na época do Império, era permitida apenas
a exteriorização dos cultos da religião católica apostólica romana. Os membros de outras religiões podiam tão somente dedicar-se
ao “culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo” (art. 5
o da Constituição de 1824).
Por
fim, a liberdade de comunicação das idéias religiosas diz respeito à transmissão de catequeses a terceiros, geralmente
com o propósito de convertê-los à religião daquele que faz a pregação. É este o direito objeto de nossa analise. Antes, é
necessário definir qual o papel do Estado nos assuntos da religião, e apresentar as funções dos direitos fundamentais que
estão em jogo na solução do problema da mídia.
2. Noção das relações entre o Estado
e a Igreja no Brasil
De acordo
com a doutrina constitucional, há três sistemas que buscam explicar a relação entre Estado e Igreja:
os sistemas de fusão, união e separação. No primeiro, há a confusão total entre religião e Estado, sendo este
considerado propriamente uma manifestação do fenômeno religioso. No sistema de união, menos radical que o primeiro, as relações
jurídicas entre o Estado e as igrejas dizem respeito à organização e ao funcionamento das entidades religiosas. Neste sistema,
pode ocorrer que o Estado reconheça oficialmente uma ou mais igrejas e passe a nomear os ministros do culto, ou a remunerá-los.
Pode acontecer, também, que, dentre as religiões reconhecidas, o Poder Público defina uma delas como “religião de Estado”.
É o que acontecia no período imperial de nossa história. A Constituição de 1824 declarava que “a religião católica apostólica
romana continuará a ser a religião do Império” (art. 5o), cabendo ao monarca, dentre outras atribuições, “nomear
bispos e prover os benefícios eclesiásticos” (art. 102, II) e “conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos
concílios, letras apostólicas, e quaisquer outras Constituições eclesiásticas” (art. 102, XIV). Por ocasião de sua aclamação,
deveriam o imperador e seus sucessores jurar “manter a religião católica apostólica romana” (arts. 103 e 106).
Antes mesmo
da promulgação da primeira Constituição republicana, o governo provisório presidido por Deodoro havia abolido, por intermédio
do Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, o sistema de união, instituindo, no lugar, a rigorosa separação entre Igreja
e Estado. O constitucionalista João Barbalho, em seus comentários à Carta de 1891, assim explicou o princípio da neutralidade
do Estado em relação às igrejas: “A fé e piedade religiosa, apanágio da consciência individual, escapa inteiramente
à ingerência do Estado. Em nome de princípio algum pode a autoridade pública impor ou proibir crenças e práticas relativas
a este objeto. Fora violentar a liberdade espiritual; e o protege-lá, bem como às outras liberdades, está na missão dele.
Leis que a restrinjam estão fora da sua competência e são sempre parciais e da nossas. È certo que nenhuma poderá jamais invadir
o domínio do pensamento, esse livra-se acima de todos os obstáculos com que se pretenda tolhe-lo. Mas as religiões não são
coisa meramente especulativa e, se seu assento e refúgio é o recinto íntimo da consciência, têm também preceitos a cumprir,
práticas externas a observar, não menos dignas de respeito que a crença de que são resultado, ou a que andam anexos”.
O Estado assegura
as liberdades religiosas, mas recusa-se a intervir no funcionamento das igrejas. Acques Robert assinala, a propósito, que
há duas modalidades distintas e separação: o regime de tolerância, pelo qual o Estado tem em conta o fato religioso e a existência
de uma ou mais igrejas, mas não se imiscui no uncionamento delas; e o regime de desconhecimento deliberado e completo do fenômeno
religioso. Elival da Silva Ramos, por seu turno, observa que no sistema de separação, o Estado pode adotar a posição de absoluta
neutralidade regime de separação rígida), mas também pode valorar negativamente o fenômeno religioso
(como ocorre nos Estados ateus, nos quais haveria o estimulo à crença e às manifestações religiosas) ou ainda emitir um julgamento
positivo sobre as religiões em geral, sem porém estabelecer nenhum tipo de discriminação em relação a uma religião
específica. Trata-se, nesta última hipótese, do regime da separação atenuada, adotado, segundo o autor, pela constituição
de 1934 e por todas as outras que a sucederam.
O art.
5o inciso VI, da Constituição da República assegura ao indivíduo não apenas a liberdade de escolha de uma ou outra religião,
mas também a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade
de descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir o agnosticismo.
“…A
norma em questão buscou dar concreção ao princípio da autonomia, norma basilar de todo Estado democrático, segundo a qual,
sendo valiosa a livre eleição de planos de vida e a adoção de ideais de excelência humana, o Estado e os demais indivíduos
não devem interferir nessa eleição ou adoção, limitando-se a criar instituições que facilitem a persecução individual desses
planos de vida e a satisfação dos ideais de virtude que cada um sustente, e impedindo a interferência mútua no curso de tal
persecução. Em outras palavras, um Estado que se pretenda democrático não está autorizado a definir, ele próprio, o que é
bom para seus súditos, ou o que melhor satisfaz seus interesses. Não pode, por isso, emitir juízos de valor sobre as crenças
de cada um, desde que, obviamente, a manifestação dessas crenças não importe em prejuízos a terceiros”.
A maioria
dos brasileiros professa alguma religião. O princípio majoritário, porém, encontra seu limite precisamente na proteção dos
direitos das minorias. A propósito, a História registra episódios abomináveis de perseguição de grupos religiosos minoritários
por Estados autoritários que professavam um ateísmo militante. Ora, se esses episódios repugnam nossa consciência, é porque
entendemos que não é lícito ao soberano impor aos seus súditos uma visão de mundo qualquer, por mais “verdadeira”
que ela aparenteser.
Enfim, como
bem concluiu Locke, em sua conhecida Epistola de Tolerantia, “o poder do governo civil diz respeito tão-só
aos interesses civis dos homens, limitando-se ao cuidado de quanto pertence a este mundo, nada tendo que ver como mundo a
vir”.
3. Objetivos dos Direitos Fundamentais
De acordo
com Canotilho, os direitos fundamentais possuem quatro funções primordiais, a saber: prestação social, defesa, não-discriminação
e proteção perante terceiros. Nesta investigação, cuidaremos apenas das três últimas, pois me parece que a função de prestação
social não incide sobre as liberdades religiosas aqui debatidas.
Para o constitucionalista
português, os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa (ou de liberdade) sob uma dupla perspectiva:
a) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente
as ingerências destes na esfera jurídica individual; b) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer positivamente
direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas
por parte dos mesmos (liberdade negativa). Assim, por exemplo, o art. 5o, inciso IV, assegura subjetivamente o direito
de exprimir e divulgar livremente o pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio (liberdade positiva),
mas também assegura que a liberdade de expressão seja feita sem impedimentos por parte dos poderes públicos (liberdade negativa).
Além disso, a norma em questão proíbe a edição de qualquer ato normativo que importe em censura (norma de competência negativa).
A função
de não-discriminação busca assegurar que o Estado trate os seus cidadãos como fundamentalmente iguais. Esta função, anota
Canotilho, alarga-se a todos os direitos: “Tanto se aplica aos direitos, liberdades e garantias pessoais (ex: não discriminação
em virtude de religião), como aos confissões religiosas a ministrarem-no, nem tampouco obrigar alunos a seguirem a ´disciplina´…
Alarga-se de igual modo aos direitos a prestações (prestações de saúde, habitação)”. Seu fundamento é o princípio geral de igualdade, declarado no art. 5, caput,
de nosso texto constitucional., o espectro dos direitos à proteção è muito amplo, alcançando, inclusive,
os chamados “direitos de primeira geração”,como a vida, a liberdade, a privacidade e a propriedade.
Sergio Gardengchi Suiama, Procurador da República em São Paulo, escreveu no seu artigo:
“Ao contrário do que entende a doutrina tradicional das liberdades públicas, também esses direitos são objeto de ações
positivas do Estado, com o escopo de protege-los e assegurar-lhes a maior eficácia possível. As ações estatais de proteção
podem ter natureza normativa ou fática. Os direitos a ações positivas normativas são direitos a atos estatais
de imposição de uma norma jurídica”.
As normais
penais que tutelam os bens jurídicos fundamentais e as normas de organização indispensáveis para a proteção desses bens (v.g.,
as normas de organização do Sistema Único de Saúde) são ações positivas desta natureza. Há o direito a uma ação positiva fática,
por exemplo, quando a Constituição obriga o Estado a assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva (CR, art. 5, VII), a fim de garantir aos reclusos o pleno exercício das liberdades de crença
e culto.
Retornaremos
a esses conceitos logo adiante, quando examinarmos, concretamente, as possibilidades e limites da intervenção estatal na liberdade
de proselitismo religioso exercida nos meios de comunicação de massa. Antes, porém, vejamos o conteúdo específico dessa liberdade.
3. Liberdade de expressão e proselitismo
religioso.
Elival da
Silva Ramos, no artigo já indicado, redigido na vigência da Constituição anterior, argumentava que a liberdade de proselitismo
religioso e de ministrar ensinamentos religiosos “recebeu agasalho constitucional de modo indireto, ao se assegurar
a liberdade de manifestação do pensamento”. Em sentido convergente, a Corte Européia de Direitos Humanos entendeu
que a pregação está protegida pela cláusula que garante a todos a livre manifestação das idéias religiosas (art. 9º da Convenção
Européia de Direitos Humanos). Para o Estado requerido, a conduta do requerente violara a liberdade de consciência religiosa
da esposa do religioso ortodoxo; o voto majoritário da Corte, todavia, asseverou que não fora provado nenhum abuso da liberdade
de manifestação naquele caso concreto.
O paradigma
citado è bastante apropriado para definir os contornos da liberdade de proselitismo religioso em nosso sistema constitucional.
De fato, o direito está garantido prima facie pela norma que assegura a todos a livre manifestação do pensamento, sendo apenas vedado o anonimato (CR, art. 5, IV),
e também pela norma contida no art. 220 da Constituição (“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”).
O direito ao proselitismo religioso assegura, em primeiro lugar, a proteção do indivíduo em face de ingerências indevidas
do Estado (função de defesa, liberdade negativa). Isto significa que os poderes públicos não estão autorizados a cercear indevidamente
esse direito. Significa, também, que a Constituição permite ao indivíduo e às igrejas fazerem, livremente, pregações e catequeses
(função de defesa, liberdade positiva).
Em segundo
lugar, o direito em exame impõe ao Estado o dever de assegurar a todos, igualmente,
o exercício do proselitismo religioso (função de não-discriminação), não sendo obviamente permitido aos poderes
públicos autorizar a pregação religiosa de uma religião e proibir a catequese feita pelas demais.
4. Religiões e meios de comunicação
de massa
Como é sabido,
o acesso ao rádio e à TV é naturalmente limitado às faixas de freqüência de transmissão (AM, FM, VHF, UHF), de modo que esses
dois principais meios de comunicação de massa não são acessíveis a todos aqueles que queiram divulgar suas idéias. Nos termos do art. 223 da Constituição, cabe ao Poder Executivo “outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio
da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”, competindo, por sua vez, ao Congresso Nacional ratificar
ou não o ato de outorga. Pois bem. Como dissemos no início deste artigo, apenas algumas poucas igrejas – em sua maioria
neopentecostais - foram agraciadas pelo Estado brasileiro com concessões públicas de rádio e TV. Essas agremiações, porque
possuem uma audiência de milhões de espectadores, arrebanham muitos fiéis e aumentam a cada dia sua influência na sociedade,
elegendo, inclusive, numerosos representantes no Congresso Nacional. Algumas delas, no intuito de conseguir mais adeptos,
também usam o espaço televisivo e radiofônico de que dispõem para desqualificar outras religiões minoritárias.
Em recente
artigo sobre o fundamentalismo, Marilena Chauí apresenta uma explicação filosófica para essas disputas e questiona a capacidade
das grandes religiões monoteístas – judaísmo, cristianismo e islamismo – de conviverem em um ambiente democrático.
Já fizemos
referência à intervenção repressiva do Estado, em algumas hipóteses de abuso da liberdade de proselitismo religioso. O art.
208 do Código Penal sanciona aquele que “escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa”
ou “vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”; o art. 20 da Lei 7.716/89, por sua vez, pune a
conduta de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de religião”. Penso, porém, que a proteção
estatal, nesse caso, não pode estar adstrita à repressão penal, pois os tipos incriminadores citados não abrangem todas as
hipóteses de abuso da liberdade de manifestação das idéias religiosas, e, ademais, há inúmeras dificuldades no emprego do
direito penal como instrumento de promoção dos direitos humanos, sobretudo quando se trata de direitos de reduzido grau de
eficácia social, como parece ser o caso, seja ele econômico ou religioso. Em outras palavras, são deveres de um
Estado democrático velar para que os meios de comunicação de massa não sejam objeto de monopólio ou oligopólio, e garantir,
o mais amplamente possível, o pluralismo de idéias, fundamento maior da República brasileira (art. 1º, inciso V, da Constituição).
Além
disso, como vimos, uma das funções primordiais dos direitos fundamentais é a função de não-discriminação, pela qual é dever
do Estado assegurar que todos os seus cidadãos sejam tratados como fundamentalmente iguais no gozo dos direitos e garantias
declarados na Constituição. Ora, se o proselitismo religioso é garantido, prima facie, por nosso sistema jurídico,
não haveria um dever estatal de corrigir a desigualdade de fato no exercício dessa liberdade, protegendo os grupos minoritários
que não dispõem de canais de rádio e TV para realizar suas pregações? Creio que a grande dificuldade neste assunto está em
definir como os poderes públicos poderiam intervir sem que houvesse a ofensa ao princípio da laicidade do Estado brasileiro.
A própria Constituição já estabelece duas importantes regras de colisão, em seu artigo 19, inciso I, a saber: a) o Estado
brasileiro não pode subvencionar, ainda que de forma indireta, nenhuma organização religiosa que pretenda divulgar
suas catequeses; b) também não está ele autorizado a manter com as igrejas relações de dependência ou
aliança que tenham por objeto a comunicação de idéias religiosas.
A primeira
delas seria o Estado brasileiro assegurar, a todas as igrejas que manifestarem interesse, o pleno acesso aos meios
de comunicação de massa, por meio da concessão de canais ou, ao menos, do espaço disponível nas redes públicas de rádio e
TV. Conquanto o propósito seja meritório, a medida apresenta inúmeras dificuldades para ser executada. Com efeito, seria possível
que todas as organizações religiosas existentes no Brasil – mesmo as menores seitas – tivessem acesso aos
canais de rádio e TV? Como distribuir o tempo de acesso entre elas? E se alguma organização não possuísse os recursos materiais
necessários à gravação e à transmissão dos programas? Poderia o Estado financiá-las?
A segunda
possibilidade seria vedar, por completo, a pregação religiosa nos canais de rádio e televisão do país. Inequivocamente a medida
asseguraria uma igualdade maior entre as múltiplas igrejas e seitas, na medida em que eliminaria o fator que privilegia as
organizações religiosas presenteadas com concessões públicas de telecomunicações. Poder-se-ia, é claro, argumentar que a proibição
em questão feriria o “núcleo essencial” do proselitismo religioso, ou seja, que a restrição aventada importaria
na aniquilação do próprio direito de comunicação das idéias religiosas. Não me parece que assim seja, pois existem inúmeras
outras formas de divulgação das idéias religiosas, e por certo nenhuma igreja possui o direito público subjetivo de propagar
suas doutrinas nos meios de comunicação de massa.
A proibição
do proselitismo religioso nos canais de rádio e TV, contudo, parece contrariar dois outros requisitos que, segundo a doutrina
constitucional contemporânea, devem ser levados em conta sempre que houver a necessidade de restrição a direitos
fundamentais: a máxima da necessidade (Erforderlichkeit) e a proporcionalidade em sentido estrito. “Ora,
se considerarmos que as finalidades desejadas com a intervenção estatal são assegurar condições igualitárias mínimas no exercício
do direito ao proselitismo religioso e promover o pluralismo de idéias no âmbito dos meios de comunicação de massa, não me
parece necessário, nem proporcional, proibir, por completo, a pregação religiosa nas rádios e TVs do país; outras medidas
estatais de natureza administrativa, legislativa e também judicial poderiam ser executadas com o escopo de atingir essas mesmas
finalidades”.
E, caso uma
determinada igreja utilize o rádio ou a televisão para ofender ou desrespeitar outros credos, deverá a emissora responsável
pela transmissão sofrer as sanções previstas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (Decreto Presidencial n.° 52.795/63), podendo, até mesmo, perder a concessão
outorgada no caso de reincidência, nos termos do disposto no art. 223, § 4º, da Constituição, e no art 133 do Regulamento.
De lege ferenda, seria de grande relevância a edição de emenda constitucional ampliando o direito de antena também
para organizações da sociedade civil. Limito-me, por isso, a apresentar alguns dosargumentos lá abordados.
Em nosso
sistema jurídico, quando a informação ou opinião causar dano a direito individual, o direito de resposta será exercido
pela própria pessoa ou pelos legitimados indicados no art. 29, § 1 o, “a” e “b”, da Lei 5.250/67.
Ocorre
que a ofensa ou a divulgação de um fato inverídico pode causar, também, lesão a direitos ou interesses metaindividuais. É o que acontece quando uma determinada transmissão ofende uma crença religiosa, pois esta crença è compartilhada por
um número indeterminado de pessoas, ligadas pela mesma circunstância fática, qual seja, a convicção em um conjunto de preceitos
doutrinários e a obediência aos ritos e práticas próprios desta doutrina. A propósito, Barbosa Moreira observa que “o
interesse em defender-se ‘de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221’
enquadra-se com justeza no conceito de interesse difuso.
Com efeito:
em primeiro lugar, ele se caracteriza, à evidência, como ‘transindividual’, já que não pertence de modo singularizado,
a qualquer dos membros da comunidade, senão a um conjunto indeterminado – e, ao menos para fins práticos, indeterminável
– de seres humanos. Tais seres ligam-se uns aos outros pela mera circunstância de fato de possuírem aparelhos de televisão
ou, na respectiva falta, costumarem valer-se do aparelho do amigo, do vizinho, do namorado, do clube, do bar da esquina ou
do salão de barbeiro. E ninguém hesitará em qualificar de indivisível o objeto de semelhante interesse, no sentido de que
cada canal, num dado momento, transmite a todos a mesma e única imagem, nem se concebe modificação que se dirija só ao leitor
destas linhas ou ao rabiscador delas”.
O exercício
regular do direito de resposta coletivo não constitui, evidentemente, censura aos meios de comunicação, pois a faculdade decorre
de norma constitucional expressa. A emissora de rádio ou TV não está impedida de expressar, livremente,
suas idéias. Se tais idéias, porém, atingirem a liberdade religiosa ou outros direitos metaindividuais, os legitimados indicados
no art. 5 o da Lei 7.347/85 e art. 82 da Lei 8.078/90 poderão postular a retificação ou a resposta, nos termos do procedimento
previsto nos arts. 29 a 36 da Lei de Imprensa (Lei 5.250/67).
No mais,
o direito de resposta coletivo é a restrição constitucional que menos onera a liberdade de comunicação social. Parece-nos
admissível, também, no caso de ofensas às liberdades religiosas, o ajuizamento de ação coletiva de indenização, postulando
a condenação da emissora por danos patrimoniais e morais causados à coletividade, com fundamento no art. 5, inciso
V, c.c. os arts. 220, §§ 1 o e 3, II, e 221, inciso IV, todos da Constituição.
Em geral,
a Constituição brasileira de 1988 não permitiu ao Estado impedir uma informação ou idéia de circular, ainda que essa informação
ou idéia afronte direitos fundamentais; assim, o Poder Judiciário não estaria autorizado a impedir liminarmente uma determinada
transmissão na qual haja ofensas a religiões ou crenças.
5. Conclusão
Procurei,
aqui, examinar de que forma o Estado poderia proteger as liberdades religiosas contra transmissões televisivas ou radiofônicas
abusivas. Partindo da constatação de que os meios de comunicação de massa são um poderosíssimo instrumento de manipulação
do imaginário popular, e considerando que, na atualidade, as poucas religiões que têm acesso a esse instrumento usam do poder
que dispõem para atacar a crença e os cultos de grupos minoritários (notadamente as religiões afro-brasileiras), procurei
examinar as possibilidades de intervenção protetora dos poderes públicos, nos limites de um Estado democrático laico.
Para
isso foi preciso distinguir as múltiplas dimensões constitucionais da liberdade de religião (liberdade de consciência religiosa,
liberdade de culto, liberdade de associação religiosa e liberdade de comunicação das idéias religiosas) e apresentar a tipologia
das relações entre o Estado e as igrejas. Vimos, nesse passo, que o Estado brasileiro, desde os primeiros dias da República,
adotou o sistema da separação do poder civil em relação ao poder eclesiástico, sistema pelo qual o Estado garante a
todos o gozo das liberdades religiosas declaradas na Constituição, mas recusa-se a intervir no funcionamento das igrejas e
a emitir qualquer juízo de valor – positivo ou negativo – a respeito do fenômeno religioso.
“Ocorre
que, de acordo com a doutrina constitucional contemporânea, as normas instituidoras de direitos fundamentais não têm apenas
a função de direitos de defesa, isto é, não asseguram apenas a proteção do indivíduo contra ingerências estatais indevidas,
mas também impõem ao Estado o dever de adotar medidas positivas destinadas a proteger o exercício desses direitos,
contra atividades perturbadoras ou lesivas praticadas por terceiros. Além disso, a função de não-discriminação busca
assegurar que o Estado trate os seus cidadãos como fundamentalmente iguais, devendo, portanto, atuar para reduzir as desigualdades
de fato que atrapalhem a fruição dos direitos declarados na Constituição e nos tratados internacionais. Ora, considerando
que a pregação das idéias religiosas, assim como as demais liberdades de religião acima apontadas, encontram proteção constitucional,
não está o Estado autorizado a assistir passivamente algumas poucas igrejas usarem do acesso privilegiado que possuem aos
canais de rádio e televisão para ofender grupos religiosos minoritários”.
O regulamento
dos serviços de radiodifusão prevê a imposição de sanções administrativas para as emissoras fim de preservar o bem jurídico
de maior relevo e, indiretamente, o princípio orientador de toda a ordem jurídica, que é a dignidade humana. que veicularem
campanhas discriminatórias de “classe, cor, raça ou religião” e o Código Penal e a Lei 7.716/89 contêm tipos que
incriminam condutas discriminatórias ou preconceituosas em relação às liberdades religiosas.
No âmbito
do Poder Judiciário, a proteção dos interesses coletivos dos seguidores de uma determinada religião pode ser feita por intermédio
da garantia do direito de resposta coletivo, nos termos do disposto no art. 5º, inciso V, da Constituição. Como já foi dito,
o instrumento em questão não representa apenas uma garantia individual, destinada à proteção da honra da pessoa física
ou jurídica ofendida, mas é também um instrumento importante de compensação da unilateralidade dos meios de comunicação social
que pode ser usado, inclusive, no caso de ofensas a direitos ou interesses metaindividuais.
“Nesses
tempos de intolerância e de recrudescimento dos fundamentalismos religiosos, é essencial que os Estados democráticos reprimam
com rigor atos discriminatórios ou contrários a direitos fundamentais, e favoreçam o pluralismo de idéias na pólis. São esses,
a meu ver, os dois vetores que devem ser considerados no debate sobre os limites ao exercício das liberdades religiosas nos
meios de comunicação de massa”.
Falando
de ponto e vista «católico», não há nada mais direto que recordar o pensamento do Papa, especialmente como expressou em Colônia,
quando em agosto de 2005, se encontrou com alguns lideres da comunidade islâmica. Bento XVI afirmou que as religiões são chamadas
a criar, apoiar e promover a premissa de cada encontro, de cada diálogo e de cada compreensão do pluralismo e diferença cultural.
Esta premissa é a dignidade da pessoa humana. Nossa dignidade humana comum é uma verdadeira premissa porque precede qualquer
outra consideração ou princípio metodológico, até o da lei internacional.
Isso
vemos na «Regra de outro», que se encontra em todas as religiões do mundo. Outra descrição deste conceito é a reciprocidade.
Animar
a consciência e a experiência desta herança comum entre as religiões seguramente ajudará a traduzir esta visão positiva em
categorias políticas e sociais que, por sua vez, informarão as categorias jurídicas que subjazem nas relações nacionais e
internacionais.
“Nas décadas de 70 e 80, as Comunidades Eclesiais de Base desempenharam um papel profético/político
relevante. Muitos quadros dos movimentos sociais, do sindicalismo e do Partido dos Trabalhadores de hoje têm raízes neste
movimento (16). Também não se pode ignorar o movimento carismático católico e, mais recentemente, a presença do padre Marcelo
Rossi nos meios de comunicação de massa. O exemplo da missa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes (1998), transmitida em
parte pelo Faustão, da rede Globo de televisão, em franca concorrência com o Gugu, do Sistema Brasileiro de Televisão (17),
indica uma revitalização na perspectiva da transversalidade de coloração carismática. O padre Rossi colocou mais de 40 mil
pessoas a cantar e a dançar, num ritmo comum ao pentecostalismo, sem ferir os aspectos básicos da liturgia católica romana.
Paramentado de vermelho e imitando cantores de música popular, levava as pessoas ao êxtase, ao mesmo tempo em que aparecia
na TV numa guerra por audiência entre a Globo e o SBT; e, no final do ano (1998), marcou presença em várias redes de TV, com
entrevistas e celebrações que atraem milhares de pessoas. Além disso, deve-se reconhecer o seu sucesso na venda de CDs. Nesta
perspectiva, a mensagem carismática torna-se um bem simbólico ao lado de tantos outros, subordinada aos interesses dos poderosos
meios de comunicação (18). Ironias de lado, se Jesus Cristo tivesse escutado o Ibope, com certeza não teríamos o evangelho. O
que significa o fenômeno Marcelo Rossi para a nossa perspectiva analítica? A Igreja Católica, ou melhor, o catolicismo popular
persiste ao se modificar. Diria que ele muda para continuar ou continua na mudança. Como permeia a cultura, ele sempre aparece
em um ou outro lugar. Portanto, modificados pelos meios de comunicação, os símbolos tradicionais foram ressignificados sem
que perdessem elementos básicos de sua identificação. Desta forma, o movimento do padre Marcelo Rossi, carismático e/ou pós-moderno,
difere em parte do pentecostalismo ou dos carismáticos protestantes. Enquanto Padre Marcelo continua obediente à hierarquia,
sem abolir as vestes litúrgicas e seguindo à risca a liturgia da missa, no mundo pentecostal ou carismático protestante parece
ocorrer uma negação do passado religioso com a conversão. Já participei de culto na Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil em que a única identificação é o prédio, o templo. As vestes litúrgicas foram abolidas, os paramentos ignorados,
traços litúrgicos fundamentais jogados de lado e a teologia sacrificada em razão de uma outra que traz sucesso financeiro
para uma comunidade intimista e emocional. Mas, voltando à mensagem do padre Marcelo Rossi, nota-se nela traços dominantes
de tradições pentecostais ou carismáticas do protestantismo de conversão. Em tom irônico diria que Marcelo Rossi está "roubando"
a cena do pentecostalismo e dos carismáticos protestantes. O "contrabando simbólico" parece ser um forte traço da transversalidade” (Oneide Bobsin, Tendências
Religiosas e Transversidade: Hipóteses sobre a transgressão de fronteiras, in: http://www.est.com.br/publicacoes/estudos_teologicos/download/ tendencias.doc).
“Também não se pode
ignorar o movimento carismático católico e, mais recentemente, a presença do padre Marcelo Rossi nos meios de comunicação
de massa. O exemplo da missa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes (1998), transmitida em parte pelo Faustão, da rede Globo
de televisão, em franca concorrência com o Gugu, do Sistema Brasileiro de Televisão (17), indica uma revitalização na perspectiva
da transversalidade de coloração carismática. O padre Rossi colocou mais de 40 mil pessoas a cantar e a dançar, num ritmo
comum ao pentecostalismo, sem ferir os aspectos básicos da liturgia católica romana. Paramentado de vermelho e imitando cantores
de música popular, levava as pessoas ao êxtase, ao mesmo tempo em que aparecia na TV numa guerra por audiência entre a Globo
e o SBT; e, no final do ano (1998), marcou presença em várias redes de TV, com entrevistas e celebrações que atraem milhares
de pessoas. Além disso, deve-se reconhecer o seu sucesso na venda de CDs. Nesta perspectiva, a mensagem carismática torna-se
um bem simbólico ao lado de tantos outros, subordinada aos interesses dos poderosos meios de comunicação (18). Ironias de
lado, se Jesus Cristo tivesse escutado o Ibope, com certeza não teríamos o evangelho” (Oneide Bobsin, Tendências Religiosas…, cit.).
“Conforme os Censos Demográficos do IBGE,
os evangélicos perfaziam apenas 2,6% da população brasileira na década de 1940. Avançaram para 3,4% em 1950, 4% em 1960, 5,2%
em 1970, 6,6% em 1980, 9% em 1991 e 15,4% em 2000, ano em que somava 26.184.941 de pessoas. O aumento de 6,4 pontos percentuais
e a taxa de crescimento médio anual de 7,9% do conjunto dos evangélicos entre 1991 e 2000 (taxa superior às obtidas nas décadas
anteriores) indicam que a expansão evangélica acelerou-se ainda mais no último
decênio do século XX. Os evangélicos estão distribuídos desigualmente pelas regiões brasileiras. O Nordeste, com apenas 10,4%
de evangélicos, continua sendo o principal reduto católico e, por isso, a região de mais difícil penetração protestante, enquanto
o Norte e o Centro-Oeste, com 18,3% e 19,1%, respectivamente, constituem as regiões em que esses religiosos mais se expandem.
Apesar de reproduzir a média brasileira, o Sul, onde se concentra o luteranismo, tem apresentado os mais baixos índices de
crescimento evangélico, sendo que em alguns estados ocorre perda relativa de crentes na população. O Sudeste, com 17,7%, mantém-se
como um dos mais importantes pólos da expansão evangélica. Os principais responsáveis por tal sucesso proselitista foram os
pentecostais, que cresceram 8,9% anualmente, enquanto os protestantes históricos atingiram a cifra de 5,2%. Com isso, os pentecostais,
que perfazem dois terços dos evangélicos, saltaram de 8.768.929 para 17.617.307 adeptos (ou seja, de 5,6% para 10,4% da população)
de 1991 a 2000, ao passo que os protestantes históricos passaram de 4.388.310 para 6.939.765 (de 3% para 4,1%). Embora as taxas de crescimento do protestantismo histórico sejam
inferiores às do pentecostalismo, são muito elevadas, sobretudo tendo em vista que na década anterior o protestantismo apresentou
taxa de crescimento anual negativa (-0,4). Isto provavelmente derivou de falhas do Censo de 1991, já que não ocorreram mudanças
significativas nas igrejas protestantes de uma década para outra que permitam explicar e justificar tamanha disparidade dos
dados” (Ricardo Mariano, Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal, in:
http://www.scielo.br /scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000300010 &lng= en&nrm= iso&tlng=pt ).
Cf. Adauto Novaes, Rede Imaginária:
Televisão e Democracia, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 311.
Respectivamente, 87,7% e 82,8%.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 1999.
Publicado no sítio www.ibge.gov.br.
Fabio Konder Comparato no artigo
“É possível democratizar a televisão?”, in Rede Imaginária: Televisão e Democracia, op. cit., p. 302.
Jornal Folha de S. Paulo,
edição de 10 de outubro de 2002, p. 04.
Ivo Lucchesi, A mídia e a expansão da fé, in: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/
artigos.asp? cod=262IMQ007
Gomes Canotilho, J.J., Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 1158.
Sobre o conceito de “posição
jurídica”, cf. Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1997, pp. 177-185.
José Afonso da Silva, em seu Curso
de Direito Constitucional Positivo (São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990, p. 220), omitiu a liberdade de comunicação
das idéias religiosas; Elival da Silva Ramos, no artigo “Notas sobre a Liberdade de Religião no Brasil e nos Estados
Unidos” (in Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo n.º 27/28, jan./dez. 1987, p. 199), incluiu
a liberdade de proselitismo, mas omitiu o direito coletivo à organização de igrejas.
Ramos Silva, E., “Notas sobre
a Liberdade de Religião no Brasil e nos Estados Unidos”, op. cit., p. 199.
Silva, J.A., op. cit., p.
221.
Sobre o princípio da autonomia da pessoa, cf. o interessante capítulo que Carlos Santiago
Nino dedica ao tema, no livro Ética y Derechos Humanos:
un ensayo de fundamentación, Barcelona, Ariel, 1989, pp. 199-236.
Cf. a respeito:
José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit., pp. 222-224; Elival da Silva
Ramos, “Notas sobre a Liberdade de Religião no Brasil e nos Estados Unidos”,
pp. 236-239 e Anna Cândida da Cunha Ferraz, “O Ensino Religioso nas Escolas Públicas: exegese do § 1 do art. 210 da CF de 05.10.1988”
in Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política n.º 20, São
Paulo, Revista dos Tribunais, julho/setembro 1997, pp. 21-27.
“Decreto nº 119-A –
7 de janeiro de 1890. Proibe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em materia religiosa, consagra a
plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providencias. O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe
do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta:
Art. 1.º É prohibido
à autoridade federal, assim como à dos Estados federados, expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo
alguma religião, ou vedando-a, e crear diferenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados à custa do orçamento,
por motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas.
Art. 2.º A todas as
confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas
nos actos particulares ou publicos, que interessem o exercicio deste decreto.
Art. 3.º A Liberdade
aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão tambem as igrejas, associações e institutos em que
se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e
a sua disciplina, sem intervenção do poder publico.
Art. 4º Fica extincto
o padroado com todas as suas instituições recursos e prerogativas.
Art. 5º A todas as igrejas
e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos
pelas leis concernentes à propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o domínio de seus haveres actuaes, bem como dos
seus edificios de culto.
Art. 6 o O Governo Federal
continua a prover à congrua, sustentação dos actuaes serventuarios do culto catholico e subvencionará por um anno as cadeiras
dos seminarios; ficando livre a cada Estado o arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção
do disposto nos artigos antecedentes.
Art. 7 Revogam-se as
disposições em contrario. Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de janeiro de 1890, 2 da Republica. – Manoel Deodoro
da Fonseca – Aristides da Silveira Lobo – Ruy Barbosa. – Benjamin Constant Botelho de Magalhães. –
Eduardo Wandenholk. – M. Ferraz de Campos Salles. – Demetrio Nunes Ribeiro. – Q. Boyava.”
Constituição Federal brasileira – Commentarios, apud Elival da Silva Ramos, “Notas sobre a Liberdade de Religião no Brasil e nos Estados Unidos”,
op. cit., pp. 222-223.
Elival da Silva Ramos, Notas sobre a Liberdade de Religião
no Brasil e nos Estados Unidos, cit., pp. 237-238.
Cf. a respeito o artigo de Norberto
Bobbio, “As razões da tolerância”, contido no livro A Era dosDireitos, Rio de Janeiro, Campus, 1992, pp.
203-217.
Carta a Respeito da Tolerância,
São Paulo, Instituição Brasileira de Difusão Cultural, 1964, p. 12.
A função de proteção, por
fim, diz respeito ao dever do Estado de adotar medidas positivas destinadas a proteger o exercício dos direitos fundamentais
de atividades perturbadoras ou lesivas praticadas por terceiros. Diversamente do que ocorre na função de defesa, a conduta
exigida do Estado, aqui, é comissiva. Como ressalta Alexy
Teoría de
los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 436.
Para a compreensão fundamental do
conceito de direito “prima facie”, cf. Robert Alexy, Teoría de
los Derechos Fundamentales, op. cit., pp.
81-170.
“Resta saber, entretanto, se haveria, também, um dever estatal de proteção desse
direito fundamental, isto é, se seria exigível dos poderes públicos a adoção de medidas positivas destinadas a proteger
o exercício do proselitismo religioso contra atividades perturbadoras ou lesivas praticadas por terceiros.
A doutrina constitucional liberal refere-se tão-somente ao dever de omissão dos poderes públicos, em relação às liberdades
religiosas. Não obstante, a mera leitura dos dispositivos constitucionais é suficiente para concluirmos que o Estado
também tem obrigações positivas nessa matéria. O art. 5o, inciso VI, por exemplo, ordena que o legislador infraconstitucional
proteja os locais de culto e suas liturgias; o inciso seguinte determina a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos
de internação coletiva. No direito infraconstitucional, há normas penais específicas, tutelando as liberdades de crença e
culto (art. 208 do Código Penal; art. 3 o , “d” e “e”, da Lei 4.898/65; art. 20 da Lei 7.716/89).
Penso, portanto, que há o dever de proteção do Estado em relação
à liberdade de proselitismo religioso. É essencial, porém, fixar os contornos desse dever, uma vez que poderá ele colidir
com a natureza laica da República brasileira, princípio constitucional estabelecido no art. 19, inciso I, da Constituição
(in verbis: “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”). O princípio consagra, a meu ver, autêntico
bem jurídico comunitário, conquistado após quase quatro séculos de confusão entre os interesses religiosos e os negócios estatais”…………….
“O que me parece mais interessante,
do ponto de vista da lógica do argumento proposto aqui, contudo, é uma outra modalidade do vínculo entre religião e mídia.
Eu gostaria de abordá-la a partir de dois prismas: o da articulação entre tecnologia, mídia e religião e o do caráter numinoso
do funcionamento e das realizações da mídia. Em ambos os casos, seria possível perceber uma forma de aparição (espectro, novamente)
da religião, numa sociedade em que esta já não possui o controle da vida social, como era o caso até poucas décadas atrás
(mesmo se considerarmos algumas sociedades ditas desenvolvidas ou avançadas). Como apareceria
a religião na articulação entre tecnologia e mídia? Primeiro pela fascinação que a técnica suscita ao produzir efeitos cuja
complexidade é conhecida apenas por especialistas e cuja reprodução está ao alcance apenas de quem detém os recursos (de saber,
de hardware e de software, de capital). As maravilhas das novas tecnologias da comunicação, sua forma de se apresentar para
os consumidores como user friendly ou como capaz de resolver problemas de forma
simples (por seu poder de exibir o que é real e de pautar o debate público; por seu potencial de acelerar efeitos e diminuir
esforços de comunicação; etc.), suscita em muitas pessoas um senso de mistério, de fascínio, quase de transe. A experiência
de fazer funcionar o que não se desconhece “por dentro” e de conseguir “sozinho” resultados que não
se poderia imaginar “antes” da tecnologia evoca aquela imagem durkheimiana do indivíduo que se torna mais forte,
mais auto-valorizado, por sua crença em Deus. Ao mesmo tempo em que mantém entre o usuário de mídia(s) e os suportes técnicos
desta(s) aquela distância que separa, no discurso religioso, os seres humanos de Deus. Em
outras palavras, estamos sugerindo uma experiência do numinoso como característica da forma como grande parte das pessoas
se relaciona com os meios hoje. Se haverá dessacralização deste “encantamento” como resultado da massificação,
da banalização do acesso, não é possível dizer. Mas as indicações de concentração crescente das grandes empresas de produção
de notícias e entretenimento e do capital que elas movimentam nos adverte contra expectativas ingênuas. O duplo poderio –
econômico e técnico – desses impérios midiáticos reforça o efeito de “transcendência” do mundo criado pelas
tecnologias da informação” (Joanildo A. Burity, Mídia e religião).
Com efeito, essas doutrinas, “como religiões que produzem teologias (isto é, explicações sobre
o sentido do mundo, a partir de revelações divinas), não têm apenas que enfrentar, do ponto de vista do conhecimento, a explicação
da realidade oferecida pela filosofia e pelas ciências, mas têm ainda que enfrentar, de um lado, a pluralidade de confissões
religiosas rivais, e de outro, a moralidade laica determinada por um Estado secular ou profano. Isso significa que cada uma
dessas religiões só pode ver a filosofia e a ciência e as outras religiões pelo prisma da
rivalidade e da exclusão recíproca, um tipo peculiar de oposição que não tem como se exprimir num espaço público democrático
porque não pode haver debate, confronto e transformação recíproca em religiões cuja verdade é revelada pela divindade e cujos
preceitos, tidos por divinos, são dogmas. Porque se imaginam em relação imediata com o absoluto, porque se imaginam portadoras
da verdade eterna e universal, essas religiões excluem o trabalho do conflito e da diferença e produzem a figura do Outro
como demônio e herege, isto é, como o Mal e o Falso”, in “Fundamentalismo Religioso: a questão do poder teológico-político” in Adauto Novaes (org.),
Civilização e Barbárie, São Paulo, Companhia das Letras, 2004, pp. 156-157.
Como é sabido, o reconhecimento,
no século XX, de direitos fundamentais sociais, coletivos e difusos determinou a transformação do modelo liberal de direito
e de Estado. Desde então, e cada vez mais, a conduta exigida dos poderes públicos é de natureza promocional; cabe ao Estado
a função de assegurar a fruição, por todos, dos direitos e garantias fundamentais declarados na Constituição e nos tratados
internacionais de direitos humanos. Para o desempenho desta função espera-se que o Estado atue de forma positiva, através
da edição de leis e políticas públicas de natureza protetiva. E, dentre as leis editadas pelo Estado, algumas haverão de ter
natureza penal. Aliás, a criminalização de condutas ofensivas a direitos fundamentais não é apenas desejável, mas constitui
um verdadeiro imperativo ao legislador, na exata medida em que esses direitos expressam os bens jurídicos mais vitais para
o funcionamento do sistema social. Nesse sentido, Hassemer observa que, no moderno direito penal, “la protección de
bienes jurídicos se ha convertido em un criterio positivo para justificar decisiones criminalizadoras, perdiendo el carácter
de criterio negativo que tuvo originariamente. Lo que
clásicamente se formuló como un concepto crítico para que el legislador se limitara a la protección de bienes jurídicos, se
ha convertido ahora en una exigencia para que penalice determinadas conductas, transformándose así completamente de forma
subrepticia la función que originariamente se le asignó” (Winfried Hassemer, Persona, Mundo y Responsabilidad:
bases para una teoría de la imputación en Derecho Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p. 47). É importante lembrar que a Constituição de 1988 e os tratados internacionais de direitos humanos ratificados
pelo Brasil contêm “cláusulas expressas de penalização” (Verfassungsrechliche Pönalisierungsgebote) de condutas atentatórias
a bens jurídicos
fundamentais (cf., por exemplo, os incisos XLI e seguintes da Constituição, os arts. 11, 19, 32, 34 e 35 da Convenção sobre os Direitos
da Criança, e os arts. 2, “d”, e 4, “a”, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial). Há, como se vê, uma evidente tendência contemporânea a exigir
a proteção dos direitos fundamentais da pessoa através da edição de normas penais sancionadoras. Na expressão de Alessandro Baratta, “ampliar la perspectiva del derecho penal de la
Constitución en la perspectiva de una política integral de protección de los derechos, significa también definir el
garantismo no solamente en sentido negativo como límite del sistema punitivo, o sea, como expresión de los derechos
de protección respecto del Estado, sino como garantismo positivo. Esto significa la respuesta a las necesidades
de seguridad de todos los derechos, también de los de prestación por parte del Estado (derechos económicos, sociales
y culturales) y no sólo de aquella parte de ellos, que podríamos denominar derechos de prestación de protección, en
particular contra agresiones provenientes de determinadas personas” (Alessandro Baratta, “La Política
Criminal y el Derecho Penal de la Constitución: nuevas reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales”
in Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.º 29, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, p. 48). Não Há ainda outros argumentos em favor de uma atuação estatal mais abrangente. Como observa Jorge Miranda, é um
imperativo do Estado de Direito e do regime democrático pluralista que o poder dos meios de comunicação de massa seja dividido e não seja absorvido
pelo poder político de conjuntura (odo Governo em funções), nem por qualquer forma de poder social.
A proteção ao núcleo ou conteúdo
essencial (Wesengehalt) de um direito fundamental está prevista no art. 19, parágrafo 2º, da Constituição alemã, e
tem sido invocada pela doutrina constitucional brasileira como uma restrição materialmente constitucional às normas restritivas.
Cf. a respeito Robert Alexy, op.
cit., pp. 111 e ss., José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., pp. 259 e ss., e Luís Roberto Barroso, Interpretação
e Aplicação da Constituição, São Paulo, Saraiva, 1998, pp. 198 e ss.
O artigo 122 do Regulamento prevê
expressamente, como infração administrativa na execução dos serviços de radiodifusão, o ato de “promover campanha discriminatória
de classe, cor, raça ou religião”.
O “direito de antena” é a possibilidade concedida a organizações não-governamentais,
sindicatos e partidos políticos de usar uma parte do tempo das rádios e TVs - públicas ou privadas - para a divulgação de
suas idéias. Resta, por fim, examinar o âmbito de atuação do Poder Judiciário neste assunto. Não há, evidentemente, direito
público subjetivo de acesso ao serviço de radiodifusão, de modo que nenhuma igreja poderia exigir a outorga judicial de um
canal de rádio ou TV. Todavia, a Constituição de 1988 previu um remédio judicial bastante eficaz para possibilitar o confronto
de idéias nos meios de comunicação, sempre que a transmissão contiver informações inverídicas ou ofensivas: trata-se do direito
de resposta, garantia instituída no art. 5º, inciso V, do texto constitucional (in verbis: “é assegurado o direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, in "A voz do dono e o dono da voz: o direito de resposta coletivo nos meios de comunicação social"
in Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União n.º 05, Brasília, ESMPU, 2002, pp. 107-121.
O constitucionalista português Vital Moreira, em importante trabalho sobre o tema, observa que o
direito de resposta não representa apenas uma garantia individual, destinada à proteção da honra da pessoa física
ou jurídica, mas é “também um meio de acesso (...) aos meios de comunicação social, um instrumento de compensação da
sua unilateralidade, uma expressão do direito à ‘igualdade de oportunidades comunicativa’ (kommunikative
Chancengleichheit) a favor de quem seja por aqueles referido em termos inverídicos ou ofensivos. Sendo a relação dos
meios de comunicação de massa com o seu auditório uma relação unilateral, ‘vertical’, enfim, monoloquial, o direito
de resposta funciona como uma incursão equilibradora, de natureza controversial, coloquial e dialogal”, in O Direito de Resposta na Comunicação Social,
Coimbra, Coimbra Editora, 1994, p. 33.
Como observa Rodolfo de Camargo
Mancuso, “os interesses podem ser visualizados numa ordem escalonada, uma ‘escala crescente de coletivização’.
Assim concebidos, os interesses são agrupados em planos diversos de titularização, isto é, eles aparecem ordenados pelo critério
de sua atribuição a um número maior ou menor de titulares” (Interesses Difusos: conceito e legitimação para
agir, 4 a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 74). Sob esse enfoque, os interesses metaindividuais ou transindividuais
são “os interesses que excedem o âmbito estritamente individual mas não chegam a constituir o interesse público”
(Hugo Nigro Mazzilli, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 12 a edição, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 43).
Acrescenta Mazzilli que “o que caracteriza os interesses transindividuais, ou de grupo, não é apenas (...) o fato de
serem compartilhados por diversos titulares, reunidos pela mesma relação jurídica ou fática, mas, mais do que isso, é a circunstância
de que a ordem jurídica reconhece a necessidade de que sua defesa individual seja substituída por uma defesa coletiva, em
proveito de todo o grupo” (Idem, pp. 43-44). José Carlos Barbosa Moreira, com seu habitual brilhantismo, define
os interesses metaindividuais, do ponto de vista subjetivo, pela “pertinência a uma série ao menos relativamente aberta
de pessoas e, ao ângulo objetivo, pela unidade e indivisibilidade do respectivo objeto, com a conseqüência de que a satisfação
de um titular não se concebe sem a concomitante satisfação de toda a série de interessados, e a lesão de um só é por força,
ao mesmo tempo, lesão de todos”
(“Ação Civil Pública
e Programação de TV” in Temas de Direito Processual, 6 a série, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 243). O Código de
Defesa do Consumidor, como é sabido, distinguiu, para fins de proteção, três espécies de interesses ou direitos metaindividuais:
os interesses difusos, definidos como os “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”; os coletivos, assim entendidos “os transindividuais de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base”; e os individuais homogêneos, que são os “decorrentes de origem comum” (art. 81, parágrafo
único, da Lei 8.078/90).
“Ação Civil Pública e Programação
de TV”, op. cit., pp. 243-244. No mesmo sentido, cf. o artigo de Rodolfo de Camargo Mancuso, “Controle
jurisdicional do conteúdo da programação televisiva” in Boletim dos Procuradores da República n.º 40, agosto
de 2001, pp. 20-29.
Trata-se, portanto, na expressão
de Robert Alexy, de restrição diretamente constitucional (cf. a respeito sua Teoria de los Derechos Fundamentales,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 267-285).
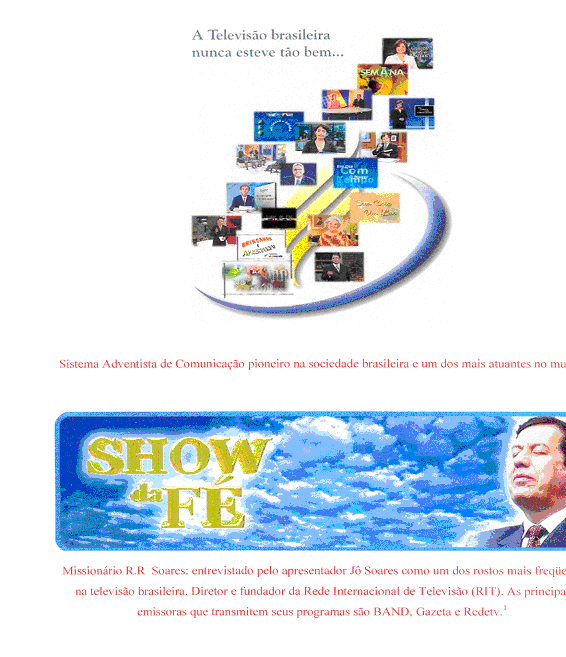
|

